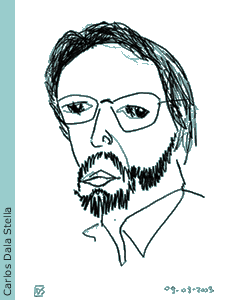 |
http://www.polzonoff.com.br
A cura inexistente para a síndrome palpável
Paulo Polzonoff Jr.
Não vou falar do estilo. Cristovão Tezza escreve com maestria. Raros são os escritores brasileiros hoje que cuidam com tanto esmero do texto. As palavras são exatas; o ritmo das frases não tem falhas; não se encontra, nas mais de duzentas páginas do livro, qualquer sinal de desleixo. O escritor é reverente para com a escrita. E, talvez por isso mesmo tenha, produzido seu mais intrigante e emocionante trabalho.
A ficha catalográfica de O Filho Eterno, é clara: trata-se de um romance. Mas há elementos autobiográficos ali. O autor, assim como o personagem, é escritor; ambos têm um filho com Síndrome de Down; os dois ainda compatilham outros aspectos da vida, como a atividade de professor e a torcida pelo Atlético Paranaense. Onde, então, está o elemento fantasioso, que tira o livro da prateleira das autobiografias para colocá-lo na seção de ficção?
É preciso, neste caso, entender a literatura como um exercício de fabulação. Esta é a essência de tudo. Ao desafiar estes limites, Cristovão Tezza, em O Filho Eterno, acaba por esfregar na cara dos leitores a mediocridade deles. Os que lêem como um relato confessional se deixam manipular pelo próprio desejo de saber da vida alheia – um dos mais nocivos cancros da nossa época. Como relato autobiográfico, o romance tem vida útil curtíssima; é na percepção de que o pai sem nome é tão-somente personagem que a grande qualidade do livro aparece.
Escrever é um exercício de imaginação. Isto deveria ser óbvio, mas não é. Menos óbvio ainda é que ler também é um exercício de imaginação. Que falta aos nossos leitores. Eu mesmo conheço pessoas que acreditam que qualquer história seja verdade. Elas buscam esta verdade, porque não suportam o peso da ficção. Ora, se há gente que lê Cem Anos de Solidão como um livro autobiográfico… Trata-se de um fenômeno do nosso tempo: a pessoa é mais importante do que a obra, qualquer obra.
O Filho Eterno, ao se assumir como romance, acaba fazendo uma confusão danada neste terreno. Então o autor é um personagem?, se pergunta o leitor atento. Então a vida não passa de uma invenção, um encadeamento de fatos que a gente vai contando como nos convém, porque somos criadores de nossas próprias existências?
Esta, contudo, é a primeira das boas ambigüidades de O Filho Eterno. Abrir-se a ela é descobrir o maravilhoso mundo ficcional existente em todos os momentos, em todas as lembranças, registradas em livros ou não. Outro ponto atraente deste belo livro é o seu mote: o filho com Síndrome de Down.
Ele é, de fato, o ponto de partida para que o pai (sem nome) conte a sua história. Mas é interessante perceber como, aos poucos, o filho vai perdendo importância na história. Ou, por outra, vai cedendo lugar a outro filho - que é, na verdade, a condição eterna do pai. Assim, o pai acaba por se projetar na figura do filho de tal modo que assume seu lugar. Ele é também deficiente, com uma falha genética que não aparece no exame dos cromossomos. O Filho Eterno é um acerto de contas com esta condição, com esta doença, esta síndrome sem nome, para a qual não há escolas especiais nem tampouco o olhar, entre o preconceito e a condescendência, da sociedade.
O pai jamais deixou de ser um filho em busca de um pai.
Este conflito começa a se desenvolver logo no parto. Naquela que é talvez a mais marcante cena do livro, o personagem descobre, de uma só vez, que é pai – e pai de um filho deficiente, cuja existência dependerá dele. As páginas que se seguem são fortes. Rebelando-se contra esta queda, o pai deseja a morte do filho – e nela enxerga não só a liberdade, como também o retorno à condição eterna que lhe está sendo roubada. Ao contrário de Édipo, o pai não fura os olhos ou se exila. A vida não lhe dá esta oportunidade. Ele simplesmente continua sua busca (que, afinal, é anterior ao nascimento do filho), agora na condição dupla que lhe cabe.
Este pai-filho vai buscar na memória a cura inexistente para a síndrome palpável. Ele é um herói à procura da sua origem. Ao refazer mentalmente a trajetória que o levou até o ponto de ruptura – o filho real, eternamente dependente, que lhe tomou tal posição – acaba por reencontrar velhos sonhos desfeitos, mitos perdidos, cenas de um desconsolo avassalador, como uma excursão teatral em São Paulo onde tudo dá errado, daquele jeito pequeno que nos aniquila.
São muitos os pais que o filho eterno buscou em sua vida. A literatura foi um deles (embora o fato de literatura ser um substantivo feminino dos faça ensar nela como mãe); o exílio, outro; teve ainda os ideais socialistas; o líder hippie numa comunidade alternativa foi mais um. O Filho Eterno é o relato desta jornada que culmina com a aceitação de que o filho desprovido eternamente de pai pode, ele também, ser pai. Uma coisa não impede a outra.
Cristovão Tezza, habilmente, constrói um mundo fundado na realidade, mas cheio de elementos fantasiosos. A mãe, por exemplo, some da história. Ele dá a luz ao filho – e assim parece cumprir seu papel, caindo num limbo para os quais poucos dão atençào, simplesmente porque o livro é o choro eterno do filho idem. A outra filha do pai também se perde no romance, como um personagem que só serve para perguntar as horas ao protagonista. Não é acaso: o filho eterno não tem, aparentemente, irmãos. Ele está só em sua busca.
Paralelamente, e como um ponto de fuga, o romance acaba tratando da Síndrome de Down: os tratamentos, o preconceito, os disfarces dos amigos e para os amigos, etc. É interessante perceber como o romance é todo construído em torno deste fato – e a partir de certo momento o fato simplesmente se perde. Como num quadro, Cristóvão Tezza desenhou esta trama que parece tragar os leitores interessados apenas nas confissões de um pai com um filho deficiente. O resto da pintura, contudo, é a Mona Lisa, que é um jeito meio obtuso e exagerado de dizer que se trata do melhor livro brasileiro em muito, muito tempo.
|